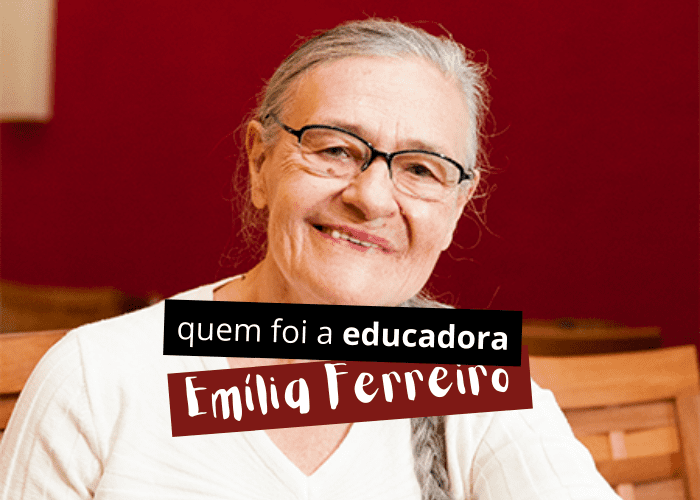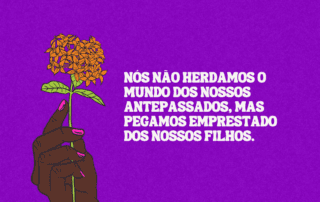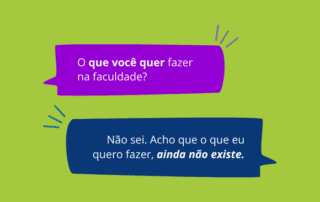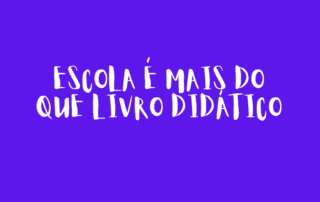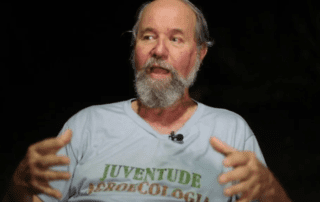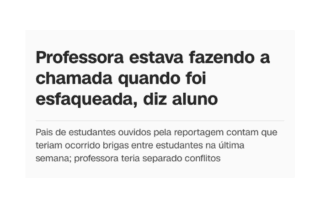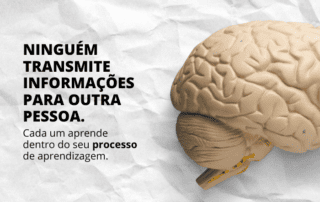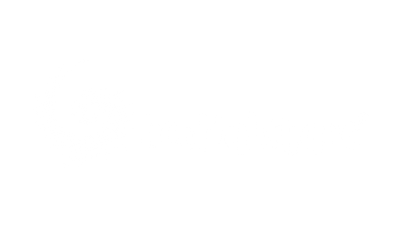Mansoa, 28 de agosto de 2041
Nos idos de maio de 1931, Cecília Meireles escrevia:
“Esperávamos uma reforma de ideologia, de democratização da escola – todas essas coisas que a gente precisa conhecer antes de ser ministro da educação. Depois, veio o decretozinho do ensino religioso. Um decretozinho provinciano, para agradar alguns curas, e atrair algumas ovelhas”.
A corajosa Cecília desafiava o Vargas e o Campos, denunciando a doutrinação numa escola supostamente laica. Falava-nos a professora Cecília de uma democratização ausente, na década de trinta, de uma escola sem autonomia, nos idos de vinte, controlada pelos partidos dos secretários de educação, supervisores e diretores indicados por prefeitos e vereadores.
Há mais de cem anos, a Cecília nos falava da ideologia de uma escola à mercê de políticos do partido no poder, que roubavam a merenda da boca das crianças, e de decretozinhos, como aquele que propunha uma “escola sem partido”.
Fui aluno de uma escola sem partido. Melhor dizendo, de partido único. Por efeito de uma Concordata, a escola era serva do credo de uma igreja única. Numa escola dita republicana, as aulas começavam com orações. Os filhos de pais ateus, ou de famílias protestantes, eram obrigados a rezar o credo católico. As professoras que quisessem casar eram obrigadas a pedir autorização ao Estado. Nas aulas de educação cívica, era feita a apologia da ditadura.
Conheço bem os perversos efeitos dessa escola sem partido. Seis décadas decorridas, aconteciam réplicas na sociedade brasileira.
Aquele encontro tinha por tema: “Educar para a cidadania” e a inevitável pergunta sobre a sazonal polémica me foi dirigida:
“Você é a favor, ou contra a “escola sem partido”?
Respondi ser contra o proselitismo e a doutrinação na sala de aula, e a favor de uma escola de todos os partidos. Pelas reações observadas, percebi que não me fizera entender. Os ânimos exaltaram-se entre adeptos dos candidatos A e B, personagens centrais de um ato eleitoral recente, num confronto verbal em que ninguém escutava os argumentos do opositor.
Quando o burburinho atingiu o seu clímax, interrompi a disputa:
“Meus amigos, não quero saber qual o candidato da vossa preferência, porque o voto é secreto. Mas, já que estamos num encontro sobre educação para a cidadania, alguém poderá dizer-nos o que o levou a escolher entre o candidato A e B?”
Para ser mais explícito, acrescentei:
“Peço-vos que mencioneis uma das propostas do vosso candidato, no campo da Educação. Nem vos peço que enuncieis propostas da área da Saúde ou da Economia. Somente da Educação. O que vos fez decidir votar nesse candidato?”
Entre as centenas de professores ali presentes, nenhum deles havia lido sequer uma linha do programa eleitoral do candidato da sua predileção.
Num tom apaziguador, tentei contornar o constrangedor silêncio, narrando um incidente crítico observado numa escola onde a palavra democracia não servia apenas para enfeitar currículo. Nela, os jovens escolhiam os seus representantes para a Mesa da Assembleia. No decurso do ato eleitoral, vi um professor pedindo aos alunos que citassem três propostas que a “chapa” da sua preferência havia apresentado. Acaso algum jovem eleitor não soubesse dar resposta, ficaria impedido de votar.
Essa não era uma escola com partido, nem sem partido. Era uma escola que não pretendia educar para a cidadania, mas que educava na cidadania, num arco-íris ideológico, num saudável confronto de ideias. Exercitava-se a democracia representativa. E os jovens aprendiam a escutar e a respeitar quem tomava partido.
Por: José Pacheco