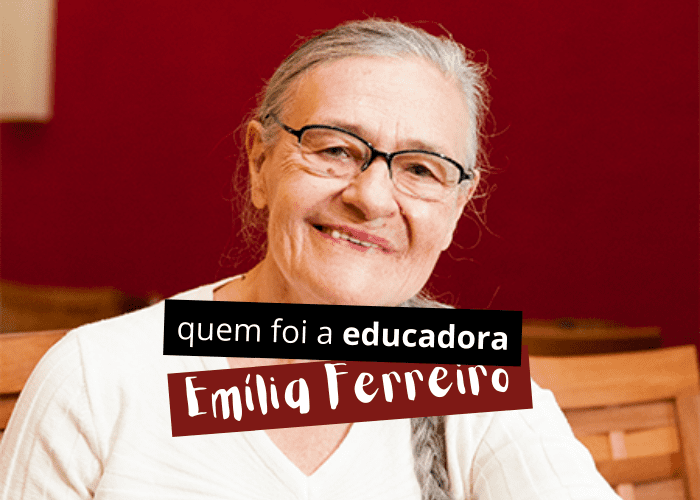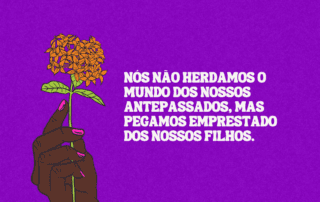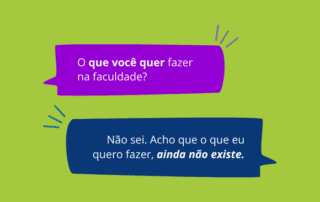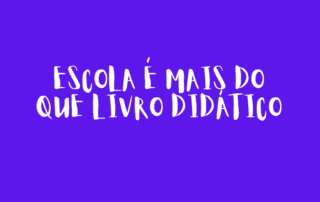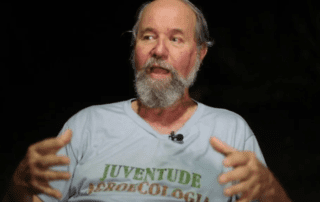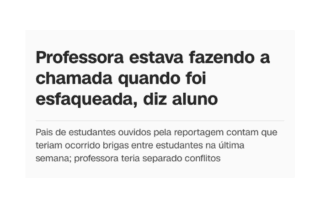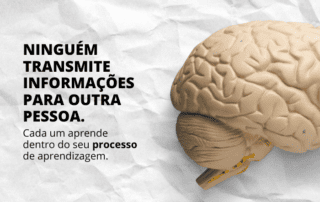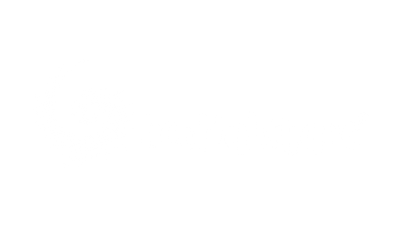Holambra 22 de outubro de 2040
O moço havia chegado à Ponte, expulso de outra escola e bem recomendado:
“É uma criança mimada e desobediente”.
Pendurou o seu paletó num cabide, derrubou dois e não fez menção de os apanhar. Fui ao seu encontro. Olhei para os objetos caídos, enquanto o meu braço pousou nos seus ombros, num amistoso abraço. O moço tentou soltar-se, mas o amplexo era firme. Gritou:
Não fui eu!
Fitei-o, calma e insistentemente. O moço voltou à fala, mas mais mansinho:
Os paletós não são meus!
Continuei olhando os paletós. O moço voltou atrás, apanhou-os e pendurou-os nos cabides de onde os tinha arrancado. Pelo fim da tarde, uma senhora entrou na escola, dirigiu-se ao vestiário, retirou do cabide o paletó do moço, atirando outro ao chão. Não se baixou para o apanhar… era a mãe do moço.
Nesse mesmo dia, acerquei-me do grupo, que o tinha acolhido. Já passava das dez horas e ele nada havia feito, se excetuarmos alguns pontapés por debaixo da mesa e o atirar de bolinhas de papel para as mesas de outros grupos. Sentei-me junto dele e perguntei o seu nome.
“Sou o Nuninho”.
“O teu nome é Nuno?” – quis confirmar
“Não! É Nuninho!”
“Então, passas a ser o meu amigo Nuno, está bem?”
Olhou-me de soslaio, mas não contestou.
“Por que não estás a estudar como os teus colegas?”
“Você não sabe? Na outra escola, eu não fazia nada!”
“Por quê?” – perguntei.
“Você não sabe? Eu sou disléxico!”
“Muito prazer em te conhecer! Eu sou o Professor Zé!” – me apresentei. O moço olhou-me com cara de quem pensava que eu não sabia o que era um disléxico. Continuei:
“Amigo Nuno, vais fazer o teu planejamento. Os teus companheiros vão ajudar-te. Eu voltarei, daqui a pouco, e quero ver o que já aprendeste”.
O grupo entendeu a mensagem. A pressão social operou milagres. O que eu disse não soou como ameaça, mas como persuasão firme e amorosa. O Nuninho, já promovido a Nuno, compreendeu que, perante um dito do professor, teria de optar entre fazer o que o professor dizia e fazer o que o professor dizia que fizesse. Optou por estudar. É evidente que cuidei de agir como se age com um disléxico. Mas, a dislexia não o impediu de aprender.
A Hanna Arendt dizia que as pessoas que não quisessem ter responsabilidade pelo mundo não deveriam ter filhos. E que os pais que não exerciam a sua autoridade, deixavam os seus filhos nas mãos de chefetes, que os lançavam no conformismo e na delinquência. A educação deveria começar na “domus” e continuar no seio da escola e da cidade, porque os filhos não nasciam com manual para uso dos pais e urgia assegurar o preceito de Napoleão: “a educação de uma criança começa vinte anos antes dela nascer”.
Naquele tempo, os infantes eram guetizados em instituições de rituais sem sentido, cativos de TV e computador. Seria preciso protegê-los da terceirização educacional. A escola poderia ser um lugar de reparação da deseducação, quando instituísse dispositivos de convivencialidade, num permanente e equilibrado diálogo com as famílias. A lei estabelecia que a educação era dever da família, da sociedade e do estado. O “e” era coordenativo, mas a prática educacional desse tempo era disjuntiva.
Entretanto, uma rede de comunidades de aprendizagem se formava, círculos de vizinhança surgiam. Neles, a família e a escola partilhavam a responsabilidade de educar. Em projetos de vida, nos quais a autoestima andava a par com a hetero-estima, onde cada ser humano era individualmente responsável pelos atos de todos os outros, onde a autoridade rimava com a liberdade e a firmeza rimava com a delicadeza.
Por: José Pacheco