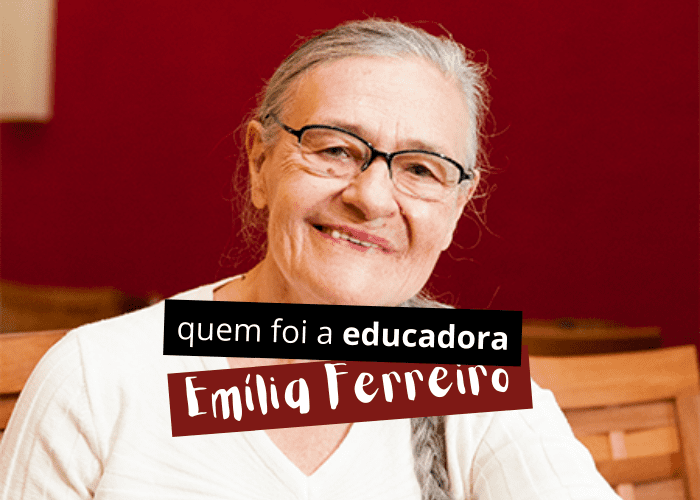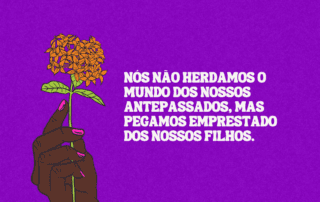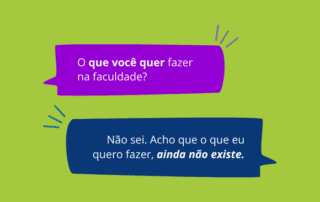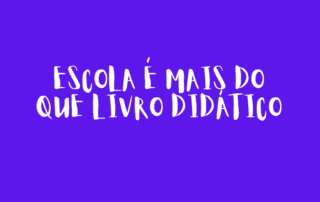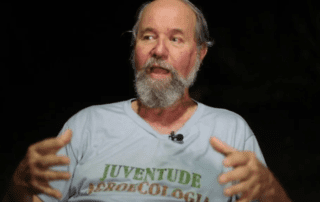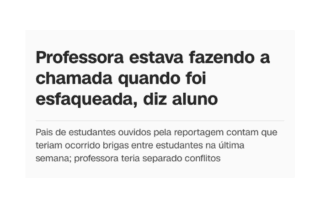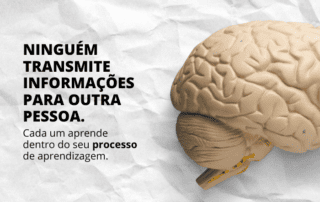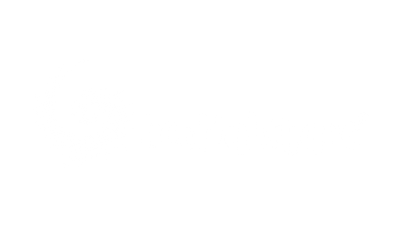Puruba, 11 de julho de 2041
Ao longo de mais de cinco décadas, envolvido na criação de comunidades de aprendizagem, cansei-me de assistir à destruição de projetos, por via de caprichos de governantes, da incompetência de funcionários, da sanha persecutória de récuas burocráticas. A falta de conexão com as necessidades e realidades glocais não prejudicava somente o desenvolvimento cognitivo dos jovens – afetava negativamente o exercício da cidadania, sedimentava a submissão a um modelo excludente de sociedade, de uma sociedade imersa numa crise de valores.
O modo de pensamento burocrático centrava-se na reprodução das relações sociais de produção, enquanto o modo de pensamento comunitário se centrava nas relações sociais e de produção como um todo. O primeiro, traduzia uma racionalidade instrumental. O segundo, uma racionalidade prática e crítica.
O burocrata concebia o sistema de relações como axiologicamente neutro. O comunitário afirmava que as relações eram marcadas por valores. O pensamento burocrático impunha um sistema hierárquico de relações, enquanto o pensamento comunitário assentava em relações simétricas, com tomada de decisões compartilhadas.
Como último elemento de comparação – que se me afigura até como maniqueísta… – refiro que, se o modo burocrático distinguia mestria de papéis ocupacionais, o modo de pensamento comunitário afirmava-se na partilha permanente do saber. Enfim! Li, já não sei onde, que a ética se assemelha a uma reta: a menor distância entre os pontos A e B, onde A é o Ideal e B, a Ação. Deveremos tolerar a incoerência entre o pensar e o fazer, ou aceitar a necessidade de fincar barreiras perante procedimentos moralmente contraditórios e antiéticos? Poderá haver educação em práticas sociais que impedem a assunção de uma vida plena, quando não fazemos aquilo que se pode e sonha poder fazer?
Nas práticas de gestão dos idos de vinte, estavam ausentes o respeito à diversidade, a coexistência de múltiplas visões, a democraticidade e, à semelhança das práticas de formação, estava ausente a assunção de autonomia, não apenas pedagógica, mas, também, a autonomia administrativa e financeira, condições básicas de melhoria do sistema.
O discurso se fizera sofisticado e estava eivado de expressões como “gestão democrática”. Mas, que democracia será possível no contexto de uma instituição que negava o direito ao exercício da profissão de professor com dignidade, se submetia o diretor, o gestor, o administrador ao “dever de obediência hierárquica”? De que “gestão democrática” estariam a falar? Que valores basilares estariam em causa?
Num tempo em que a Escola da Ponte começava a deixar de ser uma “escola dos pobres e deficientes”, passando a ser uma escola de todos, um pai, juiz de profissão, confidenciou-me:
“A minha filha aprenderá nesta escola aquilo que outras escolas lhe poderiam ensinar. Mas pode aprender aqui coisas que outras escolas não lhe ensinariam”.
Perguntei:
“O quê?”
Respondeu:
“Você sabe.”
Na sua primeira visita à Escola da Ponte, Rubem Alves deteve-se a observar uma menina, que consultava um dicionário. Perguntou-lhe por que o fazia. A menina respondeu:
“Estou a fazer uma lista de palavras “difíceis” deste texto e a escrevê-las de uma maneira mais simples”.
O Rubem insistiu:
“Foi um professor que te mandou fazer essa tarefa?”
“Não.” – disse a menina – “Eu sei o sentido destas palavras. Mas os meus colegas pequeninos ainda não sabem consultar o dicionário. E eu decidi ajudá-los. Assim, eles compreendem o texto”.
Por aqui se vê que a Ponte era bem mais que uma escola – era um alfobre de cidadania.
Por: José Pacheco