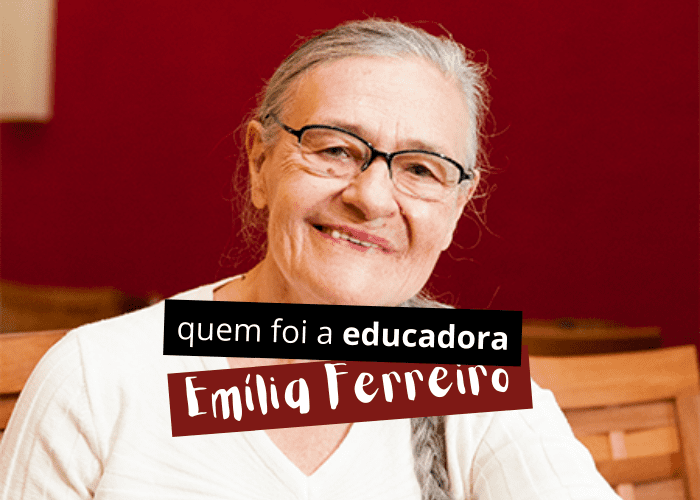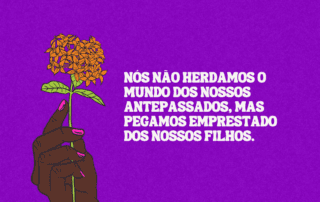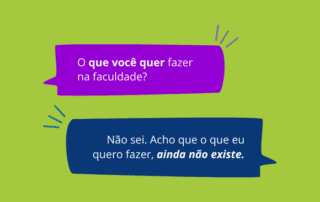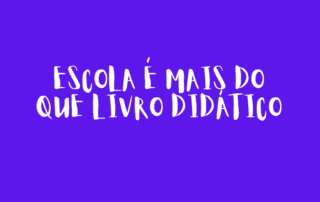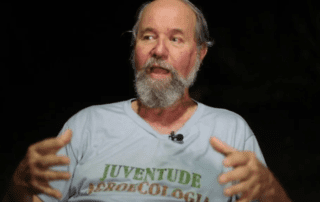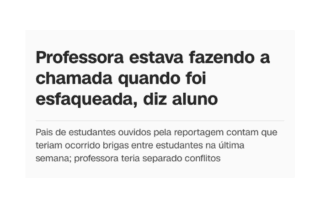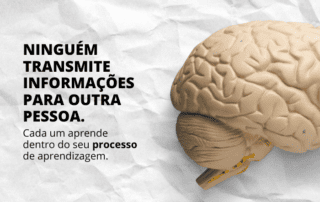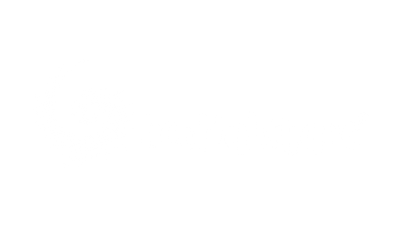Águas Lindas de Goiás, 25 de abril de 2041
Hoje, são passados 66 anos sobre uma leda madrugada. Ficai tranquilos, que não irei dizer-vos o que fiz, nem onde estava, nessa leda madrugada. Falar-vos-ei apenas de um povo, que tinha adormecido fascista, no dia 24, e acordado democrata, no dia 25. E que, por muitos anos, continuaria apático (ou desatento?) face a “tenebrosas tentações”.
Durante muitos anos, ensaiei coros de igreja, e até cheguei a cantar sete missas ao domingo… Por essa altura, eu era secretário do Coro da Sé Catedral do Porto, um coro de música sacra, que marcou uma época, dada a sua excelente qualidade. A maioria dos coralistas era de classe social média-alta, vivia em pequenos palácios. Eu vivia na Ilha dos Tigres, um cortiço onde gente digna e de “algumas posses” convivia com toda a sorte de deserdados da vida, onde as pessoas mais belas que conheci partilhavam o seu quotidiano com a violenta fealdade da prostituição.
Operacional da Revolução dos Cravos, saído da clandestina luta contra um salazarento regime, nos ensaios do Coro, conheci a “nata” do regime deposto. Enamorei-me da filha de um grande proprietário rural. E ela me levou a conhecer o resto da família, apresentando-me como “futuro marido”.
Netos queridos, perto de fazer noventa anos, sou uma autêntica ruína. Mas, naquela altura, até era um moço bem parecido. E ninguém sabia da minha modesta origem. Já havia compreendido que a organização social se baseava no princípio “cada macaco no seu galho”. Caíra na besteira de levar à Ilha dos Tigres a minha anterior namorada. A sordidez dos gestos, o eco de impropérios, a sujidade por toda a parte, as insinuações dos meus colegas de cortiço – “Ó Zé, já comeste essa gaja?” – as latentes ameaças de proxenetas, causaram tamanho impacto, que o namoro acabou nesse dia.
No dia em que a minha namorada me fez entrar num palacete repleto de luxo e ostentação, entrei em crise. Os seus pais eram pessoas delicadas, gente de paz. Aliavam um catolicismo tradicional a uma bondade natural, o que fazia deles pessoas admiráveis. A conversa fluiu natural. Creio ter causado boa impressão. Na “hora do chá”, me encheram de encômios e me convidaram para passar uns dias com eles na Casa da Praia. Afáveis, simpáticos, me rogaram que voltasse no domingo seguinte. Dei um beijo no rosto da minha namorada e dei costas ao palacete, sem olhar para trás. Nunca mais voltei aos ensaios do Coro.
Ainda hoje e em todas as manhãs que ainda poderei merecer, ponho em causa as minhas crenças, ponho em dúvida todas as minhas certezas. Porém, nos idos de setenta, eram sólidas as minhas convicções: aqueles que suportavam o regime ditatorial eram inimigos do meu povo sofredor. Tinham causado a prisão do meu pai e a morte da minha mãe. Eram meus inimigos. No dia em que convivi com o “inimigo”, as minhas mais fortes convicções esmoreceram.
Quando me perguntavam por que razão enjeitei uma promissora carreira de engenheiro e decidi enveredar pela profissão de professor, eu dava esta resposta:
“Quando decidimos sermos professores, fazemo-lo por uma de duas razões: por amor, ou por vingança. Eu decidi ser professor por vingança. E me fiz professor por amor.”
Adversidades dos primeiros tempos da profissão me levaram a banir dualismos e fundamentalismos pedagógicos. Busquei uma “terceira via”, que me protegesse de maus exemplos de praticistas e teoricistas. Após o “25 de Abril”, os primeiros quase me causaram a morte. Os segundos continuaram a pecar por omissão. Vivendo no Olimpo das teorizações de teorias, contribuíam para adiar a emergência de uma nova educação.
Por: José Pacheco