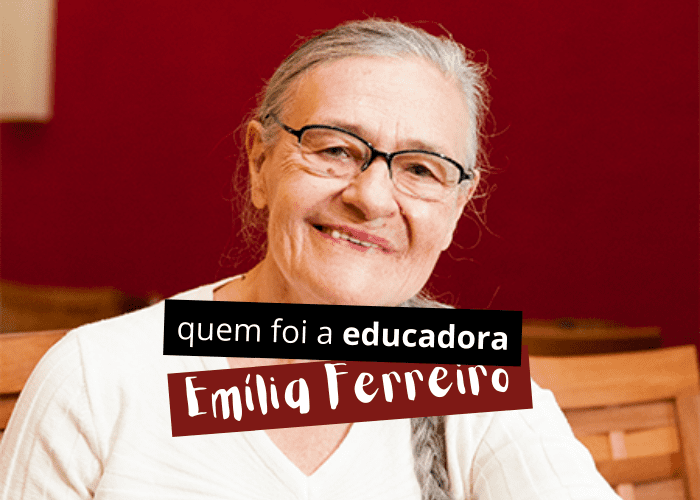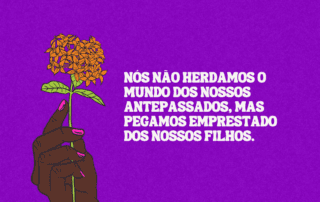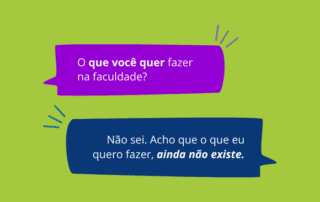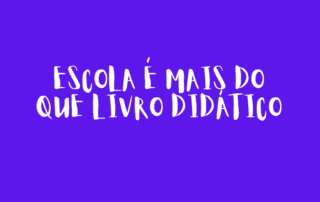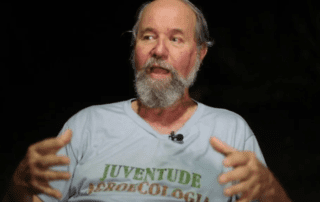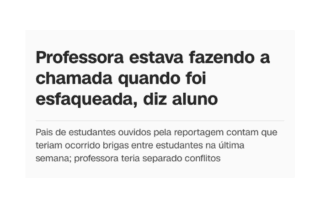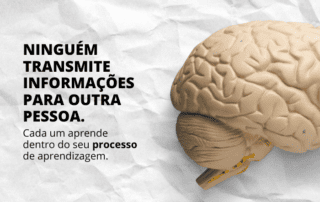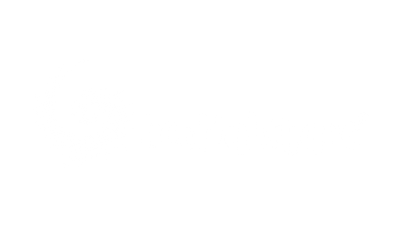Cidreira, 21 de março de 2041
Num seminário sobre “flexibilização curricular”, uma diretora de agrupamento afirmou, orgulhosa, ter introduzido uma inovação (foi isso mesmo o que ela disse) na gestão do tempo. Substituiu a atribuição das notas trimestral (os seus professores ainda “davam nota”) pela nota… semestral.
Eu cheguei a acreditar que se tratasse de uma blague, do uso da ironia para captar a atenção e, depois, dizer qual fora a “inovação”. Mas, ela mais não disse. Foi ovacionada. E, para não faltar ao respeito à senhora, me retirei do local.
Nos idos de vinte, o debate sobre educação era algo surreal. Soube que, após a minha saída do auditório, essa diretora enalteceu o regime de ciclos e disse ser esse o regime em vigor nas suas escolas. Fora do auditório, um vendedor de livros escolares, fazia publicidade aos manuais usados nas escolas que a senhora diretora superiormente dirigia. As capas desses manuais ostentavam inscrições como “Matemática 1º ano”, “Língua Portuguesa 2º ano”, “História 7º ano”… Ano! Cadê o ciclo?
Outro entretenimento em voga por essa altura era o de estabelecer “a melhor idade para aprender a ler”. Deparávamos sempre com as mesmas inúteis discussões, as mesmas abstrações. Eram organizados congressos. realizadas reuniões nos ministérios, para se encontrar resposta para uma pergunta que aportava um pressuposto – o de que todos deveriam fazer o mesmo, aprender o mesmo, no mesmo momento.
Conheci crianças de cinco anos aptas para a alfabetização e jovens de dez anos sem condições de aprender. Quando se pronunciava a palavra “aluno” de qual aluno (em concreto) estariam a falar? De nenhum…A melhor idade era a idade de cada qual.
O processo de letramento deveria ser considerado como um processo de inclusão. Aprender a ler pressupunha desejo e esforço. A linguagem é aprendida socialmente, nas interações verbais, como nos avisavam Bakhtin e Freire. Não poderia ser ensinada segundo a presunção de Comenius de que seria possível ensinar todos como se fossem um só. Se o fizesse, a escola não promovia o uso da leitura e da escrita como meio de comunicar e de assumir cidadania.
Quando uma professora quis ensinar a letra fê, recorreu a uma daquelas frases de antologia, que só traduziam desprezo pela inteligência e criatividade da infância. Leu para toda a turma, ao mesmo tempo, do mesmo modo:
“A mãe afia a faca.”
“A Fia sou eu! – exclamou uma aluna.
“Não é nada disso, Jéssica! Eu disse afia! Afia é como… amola. Percebeste?”
“A mola?” – perguntou a aluna, com cara de nada entender.
“Sim. Amola! Já vi que compreendeste!” – concluiu a mestra.
Por este e por outros fonéticos equívoco é que alguém já disse que a linguagem é fonte de mal-entendidos.
Quando visitava uma escola, perguntei a um pequenito:
“Estás a ler essa revista?”
“Não. Eu estou só vendo e cortando. Não estou lendo!”
Sábio moço! Tinha consciência de que cortar de uma revista, palavras “que tivessem o ca e o co”, como mandara fazer a professora, não era o mesmo que ler. Nunca lera Boff, mas sabia que cada leitor e cada escritor era coautor, que cada leitor lia e relia com os olhos de que dispunha, porque compreendia e interpretava a partir do mundo que habitava.
Os adultos sabiam por que queriam aprender a ler:
“Eu vim aprender a ler, para poder ler os bilhetes que estão nos bolsos do casaco do meu marido”.
Também os menores nos davam lições de pedagogia. Como a Luciana:
“Ler é saber em silêncio”.
E os professores não eram desistentes:
“Muitos dos nossos alunos repudiam a escola. Ela os sufoca, mas nós acreditamos numa outra escola. E iremos lutar para que ela exista”.
Por: José Pacheco