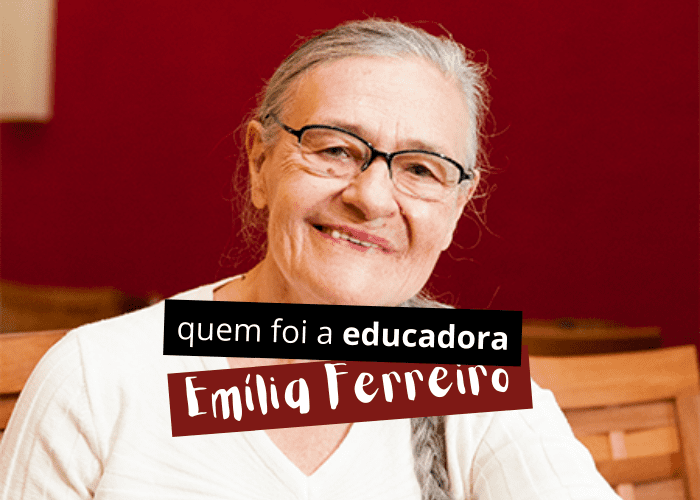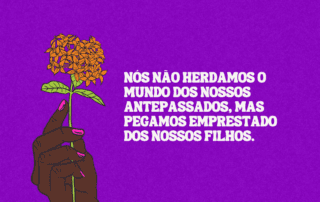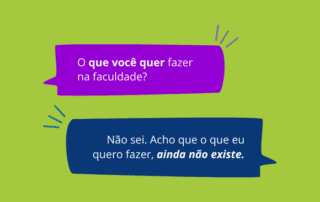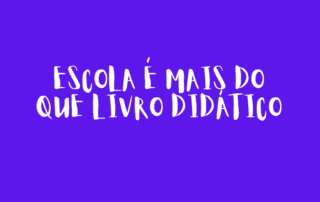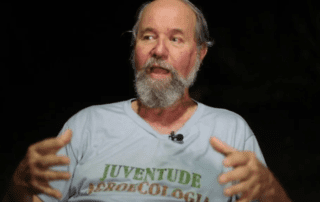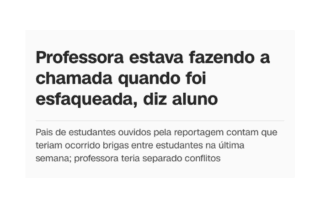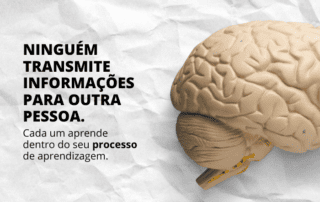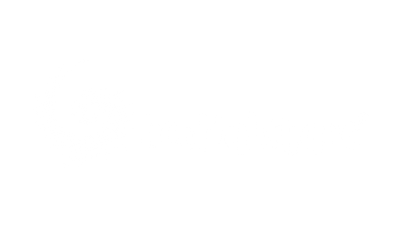Paraibuna, 13 de agosto de 2041
Na Mogi do início da década de vinte, a Ana Júlia, a Ana Paula, a Tina, a Karen e outros devotados educadores davam-nos lições de cidadania. Mas, ao mesmo, assistíamos à praga do negacionismo, ao desvirtuamento da palavra “cidadania”. Vigorava a racionalidade economicista, prevaleciam valores individualistas, consumistas. Perdera-se a noção de coletividade. O termo “cidadania” era manipulado. O conceito era usado de modo parcial, ao sabor de ocultos ou claros interesses, omitindo-se o seu real fundamento.
O que faz andar a estrada? É o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para os fazerem parentes do futuro. E, porque o Mia Couto o havia dito, não valia desistir. Tendo como referência uma sequência de tarefas adaptável a cada lugar, educadores organizavam-se em núcleos de projeto, se assumiam cidadãos. E, se uma escola não mudava inteira e ao mesmo tempo, no respeito por quem decidia mudar, novas e éticas adesões surgiam.
Embora passassem por diferentes estágios de constituição, cada núcleo era um nodo de uma rede, na partilha de uma mesma linguagem e idênticos objetivos. Os diferentes estágios resultavam do diagnóstico local e da impossibilidade de criar uma coerência exata das ações entre os núcleos, pois cada grupo humano reagia de modo diferente à necessidade de uma paradigmática transição.
As etapas de transformação eram vivenciadas num estatuto de participante ativo. Tomada consciência da precariedade do que chamávamos “ensinagem”, surgia a necessidade de entender como fazer diferente, se evidenciava que um projeto de mudança era ato coletivo. E que a autonomia cidadã resultava de um ato relacional, no ser autónomo-com-o-outro.
Ninguém seria autônomo sozinho. Existíamos porque o outro existia. A nossa liberdade não terminava onde começava a liberdade do outro. A nossa liberdade começava onde começava a liberdade do outro. Em equipe, defrontávamos momentos críticos de reelaboração da cultura pessoal e profissional. E, se nos aculturávamos através do exemplo e a aprendizagem acontecia por imitação, recordo uma situação de há muitos anos.
O presidente da assembleia era um mocinho muito autocentrado. Nas reuniões, ele somente dava a palavra aos amigos e não assumia responsabilidade coletiva, em situações que justificavam essa atitude. Foi criticado por muitos dos alunos que o elegeram. Reagiu, dizendo que se demitiria. Então, as crianças tomaram uma decisão surpreendente: decidiram que o presidente deveria continuar no cargo. Mas que a condução das reuniões deveria ser participada pelos restantes membros da mesa da assembleia, de modo a ajudar o presidente a aprender a respeitar os outros e a respeitar-se.
Ao longo daquele ano letivo, o presidente não foi demitido, mas viveu múltiplas situações de ajuda mútua. No final da última assembleia daquele ano, deitou discurso, agradecendo aos colegas a oportunidade de ter aprendido a ser solidário. Em linguagem de gente jovem, disse que não se importava de não ser o primeiro, “para que todos fossem os primeiros”.
Dizia-nos o mestre Pestalozzi que a educação moral não deve ser trazida de fora para dentro da criança, mas deve ser uma consequência natural de uma vivência moral. A compreensão e a aceitação do outro resulta de uma aprendizagem da verdade, na arte de conviver. Desde tenra idade, a solidariedade na solidariedade se aprendia. Não se educava para a cidadania. Se aprendia cidadania no exercício da cidadania, em contextos de liberdade responsável.
Por: José Pacheco